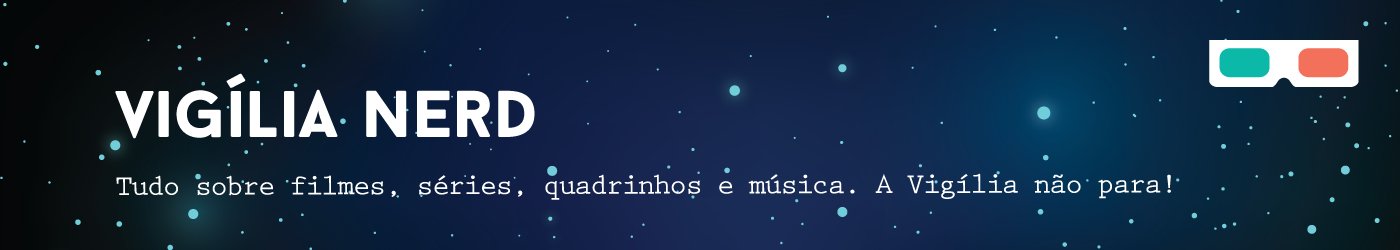Perdidos no Espaço | Crítica da 1ª temporada
O remake de Perdidos no Espaço, que estreou dia 13 de abril na Netflix, foi uma interessante jogada do serviço de streaming. A nova produção atualiza a proposta criada nos anos 60 e consegue criar uma tensão e uma ideia mais sombria do que a original, colocando desafios diferentes para uma, também diferente, família Robinson. E tudo funciona muito bem nos primeiros episódios, nos empurrando de um para outro, dando aquele gostinho de “quero mais”. No entanto, nem tudo são flores. Depois de bons ganchos e construções, ela não mantém o pique nas suas principais resoluções e desfechos, o que acaba tirando a ideia de uma série acima da média para a qual se encaminhava.
Alguns dos aspectos positivos ganharam uma lista especial aqui na Vigília e vendiam uma ideia promissora. Entre elas a ideia de uma espécie de Lost juvenil, só que em outro planeta e com outros problemas mais palpáveis (pelo menos para quem está em perdido em uma galáxia distante). A releitura da família, com Toby Stephens (Black Sails) como John Robinson, Molly Parker (House of Cards) como Maureen, Taylor Russel (Falling Skies) como Judy, Mina Sundwall como Penny e Max Jenkins (Sense8) como Will Robinson, é também uma boa novidade. O elenco se completa com a excelente construção do vilão Dr. Smith, que agora é uma Doutora (Parker Posey). Logo de cara ela vai fazer você pegar raiva de suas ações, atitudes e simulações. Por fim, temos o robô, mais violento e sombrio. Ele foge ao estereótipo dos dróides camaradas de Star Wars para ficar mais parecido com um alienígena híbrido, e cheio de possibilidades.

Tudo isso trouxe diversas possibilidades para a nova geração de Perdidos no Espaço. A relação de pai e mãe e o passado de quase todos os personagens ganha explicações em flashbacks, que até certo ponto são bem colocados. Saímos da família típica de propaganda de margarina para uma família com problemas e um passado a ser resolvido. Mais um ponto extra para o remake. Agora eles, que estão há pouco tempo juntos novamente, precisarão resolver problemas após um acidente na Resolute, planeta espacial (e artificial) onde viviam após migrar do planeta Terra. O acidente joga eles, e a nova Júpiter 2, que nessa nova jornada nada mais é do que a nave que habitam, para um planeta desconhecido. Aos poucos, eles vão reencontrando outros sobreviventes, alienígenas e mudanças climáticas que não estão acostumados. Não por acaso, a Resolute foi atacada por uma raça alienígena desconhecida. O futuro dirá que é a mesma do novo robô, até então o “mascote sombrio” da família.

Até aí, tudo muito bem. Mas quando se forma a colônia humana no novo planeta, a ficção científica vai aos poucos ficando genérica demais. Os desafios, que poderiam ser colocados muito mais pelo comportamento humano, vão se misturando a pequenos side-quests individuais, que são basicamente se livrar de algum obstáculo que o planeta “propõe”. Alguns funcionam muito bem, outros não, e o tom sombrio e instigante dos primeiros episódios vai se perdendo. As soluções de roteiro vão também sendo econômicas, ao ponto de constranger um pouco o expectador. Você até deixa passar uma vez, mas não duas, e muito menos três ou mais vezes algumas situações com quase nenhuma explicação. Fora que em momentos vitais a narrativa apenas corta a cena, não descrevendo como tudo se resolveu (um problema também visto na segunda temporada de Jessica Jones).
Uma das poucas coisas que não perde o tom é a vilã. Desde o início ela compra a nossa ira e vende caro suas necessidades. A trama em que ela almeja o controle do robô, uma das maiores ameaças para os humanos, é interessante e, mesmo um pouco óbvia, instiga o público para saber como ela vai acontecer. O problema é que ela é óbvia em seu desfecho também. Mas a maldade imposta pela Dra. Smith (tão irritante quanto a do original) é muito mais um jogo psicológico do que a necessidade de ter poder. O que ela quer é jogar com o comportamento dos outros, o que é muito mais uma forma de chamar a atenção. A carência é a sua maior fraqueza, por isso a necessidade de pertencimento.

Outro ponto importante no comparativo com as outras séries originais da Netflix são os efeitos especiais. Aqui, muito mais caprichados (como ocorreu com Altered Carbon), eles nunca nos tiram do estado de encantamento necessário nesse sci-fi. Os equipamentos, carros, naves e explosões estão muito bem construídos e legais de ver na telinha. Nesse aspecto, não há ressalvas. A trilha sonora clássica também é um acerto, dando aquele contorno saudosista.
No final das contas, a nova Família Robinson está bem atualizada, e deve voltar em uma segunda temporada. Afinal, Perdidos no Espaço é isso mesmo, a incessante luta da família Robinson para um dia voltar para casa (aquela pegada de Caverna do Dragão). Se eles vão conseguir, cabe ao público decidir. Isso porque somente um bom retrospecto de audiência vai fazer com que possamos ver mais buracos negros, naves espaciais e o clássico conflito com a agora, Dra. Smith. Na minha modesta opinião, podia ter sido bem melhor. Faltou criatividade (e noção) do meio da temporada até o final.